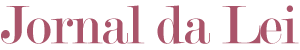As estatísticas criminais mostram um cenário de descontrole da criminalidade no Brasil: mais de 60 mil homicídios e quase 50 mil estupros por ano, além de incontáveis casos de violência que não resultam em morte, mas que deixam sequelas físicas e psicológicas nas vítimas.
A disseminação da cultura da violência, porém, não se restringe aos crimes contra a vida, mesmo que esses sejam os mais graves. Crimes contra o patrimônio também são ingredientes do caldo de sabor amargo que toma conta das ruas das grandes cidades brasileiras.
No Rio Grande do Sul, nos 12 meses do ano passado, foram registrados 144.192 roubos e outros 87.120 roubos. Além disso, ocorreram 34.779 furtos e roubos de veículos, 207 furtos e roubos a bancos e 12.846 furtos e roubos a estabelecimentos comerciais. Isso sem contar os casos que não foram registrados pelas vítimas.
Desigualdade socioeconômica, disputas relacionadas ao tráfico de drogas, conflitos domésticos e desarranjos interpessoais. Todas essas são causas sociais da violência e todas elas exigem um olhar dedicado e responsável por parte que quem estuda os fenômenos, de quem formula as normas legais, de quem as aplica, e de quem cria e executa políticas públicas.
É quase consenso entre quem estuda o tema que a dimensão do problema - assim como a sua solução - passa diretamente pela política criminal brasileira. O jurista René Ariel Dotti conceitua o termo "política criminal" como sendo "o conjunto sistemático de princípios e regras através dos quais o Estado promove a luta de prevenção e repressão das infrações penais. Em sentido amplo, compreende também os meios e métodos aplicados na execução das penas e das medidas de segurança, visando o interesse social e a reinserção do infrator".
Assim, de modo sucinto, pode-se descrever política criminal como todas as ações realizadas pelo Estado - da criação da legislação até a aplicação dela - com vistas a prevenir e reprimir condutas sociais impróprias.
As normas legais que regulam o que é crime no Brasil, quais são as punições a quem os comete e como se dá o devido processo legal, estão prestes a completar 80 anos. O Código Penal brasileiro data de dezembro de 1940. O Código de Processo Penal, por sua vez, é de outubro de 1941.
Em um país que se modifica - cultural, demográfica e economicamente - em uma velocidade mais rápida do que as instituições podem acompanhar, no qual leis são criadas aos borbotões, sendo boa parte delas desnecessárias, a atualização das normas legais que regram a política criminal brasileira deixou de ser uma opção. Passou a ser uma necessidade.
Recrudescimento de punições é a solução?
Acadêmicos, juristas e profissionais que atuam diretamente no combate à violência convergem quando se destaca a necessidade de alterações na política criminal brasileira - mesmo que apontando caminhos diversos para serem tomados.
Atualmente, tramita no Senado Federal um Projeto de Lei (PL), de autoria do senador José Sarney (PMDB-AP), que cria um novo Código Penal. O texto está parado na Comissão de Constituição e Justiça da Casa desde novembro passado, sem previsão de ter as discussões retomadas.
Já na Câmara dos Deputados, a proposta debatida pelos parlamentares é a de um novo Código de Processo Penal. O texto já foi aprovado no Senado, mas sofreu mudanças na Câmara. O projeto oriundo do Senado (PL 8.045) é de 2010. A ele, foi apensado um outro, com modificações promovidas pelos deputados (PL 7.987). Atualmente, ambos estão na comissão especial criada para analisá-los antes de serem levados à votação em Plenário.
Momentos de crise sempre resultam no surgimento de uma enxurrada de ideias. No caso da violência no Brasil, não é diferente. Há quem peça recrudescimento de punições - redução da maioridade penal, penas de prisão por mais tempo, fim das progressões de regime, prisão perpétua ou pena de morte, flexibilização do porte de armas -, e há quem defenda uma aplicação mais enxuta das leis, com menos encarceramento, maior aplicação de penas alternativas e foco na prevenção, não na repressão.
Na academia, os pesquisadores do tema tendem a, quase que unanimemente, posicionarem-se de forma contrária a punições mais severas. As justificativas se baseiam, de modo geral, nos resultados ruins que iniciativas nesse sentido obtiveram em outros países e até no Brasil, e, mais ainda, pelo fato de isso atacar as consequências e não as causas do problema.
José Vicente Tavares dos Santos, doutor em Sociologia pela Université de Paris X e professor do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), salienta que políticas de segurança não podem ser baseadas em emoções ou opiniões. "Uma política precisa ser baseada em diagnóstico, em um sistema de informações, em propostas de coordenação setorial e intersetorial. Tem de ter medidas de avaliação de desempenho, monitoramento. Nenhuma política pública pode servir a um momento de pânico social. Os efeitos disso são os piores possíveis", afirma.
A posição é compartilhada pelo coordenador do Laboratório de Estudos da Violência da Universidade Federal do Ceará (UFC), César Barreira. Para ele, o momento do pânico é aquele no qual se encontram saídas mirabolantes e as barreiras sociais são reforçadas. "Após um grande acontecimento, tem-se sempre a discussão sobre esses recrudescimentos. Discute-se muito sobre o aumento de penas e não se tem clareza sobre o que pode ser feito. Quando se trabalha com pânico, reforçam-se políticas de segregação, de apartheid social. Você tem medo do outro, não confia mais no outro. O pânico não vai levar a lugar nenhum", enfatiza.
Assim, reações intempestivas em razão de acontecimentos chocantes, na visão dos pesquisadores, acabam por gerar resultados nulos, mas se perpetuam por aplacar a sede social por justiça - ou por vingança.
O que pensa a academia?

Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo, professor de sociologia.
/CLAITON DORNELLES /JC
Menos prisões e mais foco na prevenção e na recuperação. Se as ações devem ser tomadas serenamente, sem influências do clamor das ruas, tampouco de interesses político-partidários, o papel das universidades - e dos estudos e pesquisas produzidos pela academia - acaba ganhando importância.
Doutor em Sociologia pela Ufrgs, Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo defende a necessidade de que a pena de prisão seja revista. Para o professor dos programas de pós-graduação em Ciências Criminais e em Ciências Sociais da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), em um país no qual mais de 700 mil pessoas estão presas e pelo menos 153 mil mandados de prisão aguardam cumprimento, a detenção deveria ser direcionada a crimes de mais gravidade. "Para que a pena de prisão serve? Para que crimes deve ser utilizada?", questiona. No caso dos presos provisórios, o estudioso defende um uso mais amplo das penas alternativas e do monitoramento eletrônico, com o indivíduo respondendo ao processo em liberdade, mas sob vigilância.
Azevedo aponta que as normas que definem penas alternativas, criadas em 1984 e aperfeiçoadas em 1998, mesmo deficientes, poderiam ser mais utilizadas. Entretanto, a seu ver, o uso sem limites da pena privativa de liberdade se dá como uma resposta aos anseios sociais.
"A sociedade não vê as outras penas como punição. Acha que a punição tem de ser sofrimento, e o sofrimento só é possível em presídios superlotados, em más condições. Nenhum governante irá mudar isso, pois, de alguma forma, responde a uma demanda social", observa.
Sem poder contar com a vontade política, como mudar um cenário como o brasileiro? O professor da Pucrs aponta que a mudança precisa vir de dentro do sistema, a partir do reconhecimento de que esse modelo está falido. "Precisamos ter, sim, a pena de prisão especificamente para crimes violentos, complexos, de formação de grupos organizados, no qual a prisão tenha, de fato, o papel de contenção que precisa ter, especialmente no caso dos homicídios", ressalta.
No que diz respeito a outros tipos penais, Azevedo acredita que o encarceramento não é a melhor opção, pois, além de não resultar na redução da criminalidade, acaba por aumentar a mão de obra disponível para as facções criminais. "Cito sempre a questão do tráfico, do pequeno vendedor de droga. Não muda nada em relação ao mercado da droga e, ao mesmo tempo, cria essa massa de manobra em presídios. Isso me parece que precisaria ser repensado."

O que pensa a polícia?

Rodrigo Bozzetto, chefe do Deic
MARCO QUINTANA/JC
Ao contrário de teóricos que estudam o tema, representantes de órgãos atuantes na prevenção e no combate à violência, como, no caso do Rio Grande do Sul, a Brigada Militar e a Polícia Civil, apresentam posicionamentos divergentes. Embora todos concordem que há uma necessidade latente de mudanças, tanto no sistema prisional como na legislação penal, as alterações sugeridas variam.
Policial desde 2004, o chefe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic) da Polícia Civil, Rodrigo Bozzeto, acredita que a impunidade é um dos fatores que alimenta a violência. Para ele, prevalece, no Brasil, a cultura do malandro, que enaltece quem consegue tirar vantagens em situações adversas, e zomba de quem escolhe ser correto. "Nossa sociedade está em um nível de corrupção, tanto no setor público como no privado, em pequenos atos e fatos. Já está internalizado", comenta.
Em um cenário de violência disseminada, a polícia não costuma ser a parte mais criticada pela população em geral. Já pertence ao imaginário popular a expressão que diz que "a Polícia prende e a Justiça solta", máxima que ganha força quando um criminoso reincidente ou em regime semiaberto comete um novo ato violento. No entanto, mesmo aqueles que são responsáveis pela captura dos criminosos apontam que quem solta, de fato, não é o juiz ou a juíza, e sim a legislação penal. "O Judiciário solta com base na lei. Talvez nossa legislação tivesse de ser mudada para manter alguns indivíduos segregados. Mas, de novo, entramos no problema. Segregá-los onde?", questiona Bozzeto.
A ideia de que essa frase não passa de "um jargão popular mal concebido" é compartilhada pelo comandante do Comando de Policiamento da Capital (CPC) da Brigada Militar, coronel Jefferson de Barros Jacques. A Justiça, segundo o coronel, só soltará se o processo, por ventura, assim possibilitar. O problema, na visão dele, seria a relativização das leis. "Vivemos em um momento em que as pessoas relativizam o que é dever, mas sabem muito bem o que é direito. E isso traz uma sensação de impunidade muito grande", pondera o coronel.
Punições mais rígidas também costumam ser defendidas, tanto por políticos como por parte da sociedade. O tema é tão amplo e controverso, desperta tamanho envolvimento, que aparece tanto em debates acadêmicos como em conversas de bar. A indignação da população perante crimes violentos faz com que a ideia de que não há alternativa a não ser o encarceramento e as punições mais severas, como a prisão perpétua e a pena de morte, por exemplo, surja como a única alternativa para reverter o quadro de violência no País.
O recrudescimento de punições é assunto polêmico e não há unanimidade entre os policiais. Bozzetto, por exemplo, é contra a pena de morte, mas considera que, em alguns casos, a prisão perpétua poderia ser aplicada. Além disso, questiona o impacto social que uma pena longa de prisão, considerando as progressões de regime previstas na legislação. "O que seria melhor: uma pena de 15 anos na qual o indivíduo, se não tiver antecedentes, se tiver bom comportamento, possa progredir do fechado para o semiaberto e ir para a rua, ou uma pena de três anos, na qual o indivíduo cumpra todo o período?".
Mesmo que reconhecido pelo grande número de dispositivos legais - o Código Penal brasileiro de 1940 tem, por exemplo, 361 artigos -, o País ainda tropeça na aplicação das próprias normas. Muito se fala sobre o caráter das punições: pune-se muito, pune-se pouco, ou pune-se mal? Considerando que, em junho de 2016, a população carcerária ultrapassava os 726 mil presos, conforme o Ministério da Justiça, a ideia de que se prende pouco parece carecer de base factual. Algumas prisões, como as envolvendo a Lei de Drogas - 28% das pessoas privadas de liberdade respondem por crimes de tráfico -, por exemplo, são fortemente questionadas quanto à eficácia no combate à violência.
Ainda assim, a crença de que punições mais severas são o único caminho continua existindo. "O criminoso só vai ter medo de reincidir se ele tiver certeza da punição. Isso o afastará de um novo crime, a não ser aquele que é sociopata de carteirinha. Muitas vezes, as pessoas têm a certeza contrária, de que não vai dar nada", aponta o coronel Jacques.
A redução da maioridade penal é outro ponto que causa discórdia na sociedade e entre quem atua na área da segurança pública. Não é difícil encontrar, nas fileiras policiais, defensores da responsabilização penal de jovens como adultos seja a partir dos 16 anos. O chefe da Polícia Civil gaúcha, delegado Emerson Wendt, porém, é voz dissonante neste ponto. "Enquanto for adolescente, a medida socioeducativa tem um caráter de tentar trazer aquele jovem para a ressocialização. No momento em que é considerado maior de idade e vai para o sistema prisional, a lógica é de que seja direcionado a alguma facção. Ele precisa fazer escolhas que, como adolescente, não precisa fazer", comenta. Apesar de ter percebido, nos últimos dois ou três anos, um aumento de adolescentes envolvidos em crimes de maior gravidade, como homicídio e latrocínio, Wendt acredita que a redução da maioridade penal não é a melhor solução.
O que pensa o sistema de Justiça?

Juíza Sonáli da Cruz
CLAITON DORNELLES /JC
O Judiciário cumpre um papel decisivo no processo criminal. Embora a prisão seja efetuada pelas forças policiais, quem define o destino final de cada pessoa que acaba em uma delegacia é o Judiciário. Muitas vezes considerado injusto ou ineficaz, o poder está irrevogavelmente vinculado às leis penais, que são criadas, por sua vez, pelo seu par, o Legislativo. Sem a autonomia para alterá-las, resta aos juízes, portanto, aplicar as normas da maneira mais justa, interpretando-as conforme suas posições pessoais, quando for o caso, mas sem desrespeitá-las.
Para quem atua diretamente com o resultado das decisões judiciais e trabalha, diariamente, com o sistema presidiário, as leis atuais são ineficazes. Prende-se muito, mas prende-se mal. Essa é a principal conclusão dos juízes Sidinei Brzuska, que atua na 2ª Vara de Execuções Criminais (VEC) de Porto Alegre desde 2013, e Sónali da Cruz Zluhan, que assumiu, em outubro de 2017, a 1ª VEC. Sónali atua, hoje, na fiscalização dos presídios, antes feita por Brzuska.
Por terem passado boa parte da vida profissional lidando com presidiários, os magistrados estão acostumados a ver o outro lado, e acreditam que a legislação penal é seletiva. Para alguns crimes, branda demais - como no caso do porte de armas, do roubo, do estelionato e de algumas fraudes. Para outros, é dura em demasiado, como na questão que envolve tráfico, porte e consumo de drogas.
Essa reflexão é corroborada pelo lado que acusa. O promotor Luciano Vaccaro, coordenador do Centro de Apoio Operacional Criminal e da Segurança Pública do Ministério Público do Rio Grande do Sul, também vê problemas na resposta que a legislação penal dá a alguns crimes. Ele critica, ainda, a aplicação dessas leis por parte dos magistrados, uma vez que muitos condenados ao regime fechado são liberados antes do previsto para o sistema semiaberto ou aberto.
As falhas existem em todo o ciclo que culmina em uma prisão. Vaccaro vê problemas, por exemplo, na execução de uma pena de prisão em regime fechado. Seja por falta de vagas no sistema prisional, seja pela viabilidade de progressão para outros regimes, o promotor identifica, nessas brechas, um estímulo para a prática de crimes.
Na visão do representante do Ministério Público, uma dessas lacunas está na responsabilização penal apenas aos 18 anos, o que torna os jovens objeto de cobiça dos criminosos maiores. Ainda assim, considerando a realidade dos presídios brasileiros, Vaccaro não vê com bons olhos a ideia de redução da maioridade penal. Ele crê que a solução mais adequada seria uma alteração do Estatuto da Criança e do Adolescente, ampliando o tempo máximo de medida socioeducativa de três para dez anos.
É ponto estabelecido que o modelo de política criminal que hoje vigora no Brasil prioriza a repressão. Com investimentos escassos em educação e em políticas de moradia, e falta de empregos dignos, não se atua com o afinco necessário na prevenção de crimes. A ênfase em uma atuação reativa, que só responde aos chamados de violência - prisão do ladrão depois do assalto, prisão do estuprador depois do estupro -, faz com que a polícia seja uma vidraça, e recaia sobre ela, por fim, a missão de resolver um problema no qual todos os setores da sociedade possuem responsabilidade, em menor ou maior graus.
"Não nos antecipamos e evitamos o crime, estamos deixando a vítima ser vitimada. Tem que perguntar aos secretários da Educação, da Saúde, da Cultura, qual a política deles de segurança pública. Eles estão envolvidos e fingem que esse tema não é com eles", aponta Brzuska.
Qual o melhor modelo policial para o Brasil?
Surgida, historicamente, com um duplo papel - além de cuidar da segurança, ela cumpria funções sociais, como uma espécie de prefeitura -, a polícia foi, aos poucos, assumindo caráter exclusivamente voltado ao combate ao crime no Brasil. Atualmente, as forças de segurança vivem em um cenário de dicotomia. Enquanto sua presença é celebrada por uns como garantia de combate à criminalidade, e até de heroísmo por parte de homens e mulheres que arriscam suas vidas em defesa da segurança da sociedade, por outros, é vista com desconfiança em razão de casos de excesso. Principalmente nas regiões mais vulneráveis socialmente, as polícias são, muitas vezes, reconhecidas como o Estado usando sua mão violenta para compensar a ausência de seu braço social.
Reconhecido pesquisador das polícias no Brasil, o historiador Marcos Bretas aponta que a polícia brasileira, de modo geral, é intensamente repressiva. A razão disso está na própria sociedade na qual está inserida. "A sociedade lida com a resolução de problemas por meio da violência. É assim que se resolvem as questões. A força é um mecanismo a ser usado", diz.
Até mesmo os policiais têm noção de que as pessoas percebem a profissão de maneira pejorativa. "Ninguém vai para uma delegacia para festejar. É porque foi vítima de algum crime. Somos muito odiados por várias pessoas, e o que traz muita satisfação é receber um elogio, um reconhecimento", pondera o delegado Rodrigo Bozzeto, chefe do Departamento Estadual de Investigações Criminais (Deic). No caso das regiões mais carentes, a percepção é de que polícia se dirige a esses locais, realiza a ação, prende e mata; depois, vai embora, deixando para trás um rastro de sangue, mas nenhuma solução.
A estratégia de enfrentamento puro e simples, ao ver de Bretas, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), amplia o distanciamento entre os agentes do Estado e as comunidades. Mesmo iniciativas que tinham tudo para dar certo, como a implementação das Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs) no Rio de Janeiro, fracassaram. O crime se movimentou, a pacificação não foi tão pacífica, e, por fim, perdeu-se uma oportunidade de quebrar o ciclo de violência. "Infelizmente, deu tudo errado, um desastre. Acho que será muito difícil recuperarmos isso. Vamos levar um tempo para conseguir fazer um novo experimento racional", observa.
O quadro de conflito acaba resultando em muitos policiais mortos e muitas mortes causadas por policiais. Mas como mudar esse cenário de uma polícia que mata muito e, ao mesmo tempo, morre muito? Para o pesquisador carioca, a alteração passa, primordialmente, por uma mudança no modo como a sociedade pensa a sua polícia. "Acho que há um espaço de melhorias se deixarmos de pensar a polícia como um elemento de confronto. O que é polícia? Polícia é para trocar tiros em comunidade? Temos de entrar com a questão social, mas existe uma dimensão do problema que é especificamente policial, que é a lógica de enfrentamento", opina o historiador.
O atual modelo brasileiro envolve duas polícias - a militar, de atuação ostensiva, e a civil, responsável pela investigação. A existência de duas forças distintas é questionada por alguns estudiosos do tema, os quais apontam que a divisão de tarefas prejudica o alcance do objetivo. Outros, porém, acreditam que o problema não está na existência de duas corporações, e sim nas atividades que elas fazem. "No mundo todo, mesmo em países onde há várias polícias, todas elas fazem todo o ciclo, do ostensivo até a investigação. No Brasil, uma faz só uma coisa, e a outra faz só a outra. Isso não funciona", enfatiza o sociólogo Rodrigo Ghiringhelli de Azevedo. Para ele, o modelo mais viável seria o da manutenção das duas polícias, com ambas realizando todo o trabalho.
Já para o também sociólogo José Vicente Tavares dos Santos, a quantidade de forças policiais é irrelevante, não importando quantas organizações existem, e sim o tipo de trabalho que executam. "A discussão se é de um jeito ou de outro é secundária. O problema não é se tem uma, duas, três ou quatro polícias. Existem vários modelos. O problema é qual o papel da polícia no Estado Democrático de Direito. A quem está servindo o policial? Está servindo à reprodução da violência ou à pacificação da sociedade? Essa é a discussão", destaca o professor da Ufrgs.
Para Bretas, a existência de duas corporações é o ideal, pois a militar tem um alcance que a civil não tem. Ele também defende, porém, a realização do ciclo completo por ambas.
Contrário a uma polícia única, o comandante do Comando de Policiamento da Capital, coronel Jefferson de Barros Jacques, vai além. Para ele, o ideal seriam várias polícias, com jurisdições específicas, otimizando o segmento e tornando a instituição mais eficiente. Por sua vez, apesar de reconhecer a discussão sobre o sistema atual, o delegado Emerson Wendt, chefe da Polícia Civil gaúcha, acredita que nenhuma opção funcionará sem investimento. Para ele, o mais importante, para o Brasil, é definir um patamar de gastos com segurança pública.


 Facebook
Facebook Google
Google Twitter
Twitter